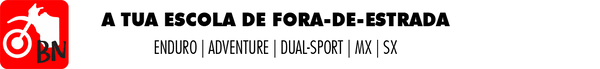Pés, história ou evolução?
Esta é uma pergunta que gera muita conversa. Alguma com razão, alguma por diz-que-disse, e outra tanta por generalização vista pela lente da experiência pessoal, independentemente, no fim do dia o consenso é curto. Da minha parte, já escrevi vários artigos sobre o tema e dediquei parte do meu livro a uma análise cuidada. Por isso, peço desculpa se agora o detalhe deste pormenor técnico for curto, mas também não é o ponto chave do artigo. Ainda assim, há pontos que devem ser revistos para entendermos o significado da evolução de pequenos detalhes no nosso desporto.
Técnica não é velocidade
Comecemos pelo básico: pés nas peseiras, bem posicionados, têm um impacto direto no controlo da mota. Em pé, isso significa calcanhar caído, peseira na zona inicial dos dedos e, no mínimo, quando possível, a biqueira da bota encostada à mota. Esta posição não serve só para alinhar os joelhos e distribuir o peso do piloto durante impactos. É também o que permite, através da anca, um controlo eficaz da roda traseira e do equilíbrio lateral da mota, vulgo, “conduzir pelas peseiras”. Sentado, e desde que no local correto na mota – algo que infelizmente não se aplica tanto quanto se pensa – o posicionamento dos pés continua a oferecer o mesmo tipo de vantagens.
Isto não é propriamente uma opinião. É biomecânica, é física, é distribuição de massas em movimento, é calculável e replicável. Assim, retirar o pé de uma peseira numa curva não é um movimento inócuo: quando é feito “só porque sim” é um erro, quando tem propósito, é técnica em movimento. Exemplos?
- quando a peseira ameaça tocar no chão e há risco do pé ser arrancado (embora alguns pilotos de topo, em terreno mole, ainda assim o mantenham para reter controlo máximo da mota)
- para fazer um dab, ou em português, recuperar de um erro
- para forçar um pivot, que, por definição técnica, exige um ponto de rotação
No primeiro cenário, o mais delicado por ser o mais propenso ao erro instintivo, se o pé vai sair para evitar contacto, e sabemos que perder o apoio das duas pernas na mota promove perda de controlo da traseira, tirá-lo de qualquer maneira é então, e por definição, um erro. A forma correta é elevá-lo o mais possível, aninhado-o entre o plástico frontal e o guiador, com a biqueira virada para dentro. Assim preserva-se a pressão dos joelhos e das pernas dentro do possível e renova-se o controlo da roda de trás, ao mesmo tempo que o pé se afasta do perigo que o obrigou a sair da peseira em primeiro lugar.
Esta análise é objetiva e o seu resultado tecnicamente replicável. A aplicação pode variar dentro de alguns moldes, mas isso não altera a sua eficácia quando bem executada. Agora, o que muitas vezes vemos – falhas técnicas à parte – são erros de execução, o que é natural, ou escolhas incorretas do piloto, igualmente natural.
Outro ponto chave a ter em conta é que capacidade técnica e velocidade não são a mesma coisa. Diria o meu paizinho que é comparar merda e pastéis de nata. Um pode influenciar o outro, mas a ligação entre os dois não é bidirecional.
Assim, podemos ter pilotos tecnicamente inferiores mais rápidos, e outros tecnicamente brilhantes mais lentos. Isto porque a velocidade final de um atleta depende de vários fatores: compromisso, análise de risco, escolha de linhas... por exemplo, se alguém for sólido tecnicamente mas mais tímido com riscos, nunca vai manter um ritmo em distância tão elevado como alguém que dá o que pode, e não pode. Assim, um piloto rápido é sempre um misto de muitas variáveis, com técnica a ser somente uma delas.
Então porque é que a técnica importa?
Porque dá consistência, e consistência limita erros, o que traz longevidade e suavidade. Suavidade tende a traduzir-se em velocidade, longevidade em menos lesões e mais finais do dia atingidos. Isso ajuda a explicar porque vemos pilotos explosivos a brilhar mas poucos a manter-se no topo durante muitos anos com essa abordagem, enquanto outros, menos agressivos, que não sendo vencedores diretos mas regulares no top 5 ou top 10 ou mesmo 20, viram mobília – a dada altura é impensável falar do desporto sem falar neles. É possível ser-se mobília sem ser tecnicamente mais estabelecido? Claro. Mas em análise temos de pensar mais nas médias do que nos extremos, porque apontar a uma improbabilidade estatística é meio caminho para o fracasso analítico. Assim aponta-se ao meio e ajusta-se às pontas se e quando for caso disso.
Do detalhe à norma
E isto já se vê no topo. Em Supercross, pés nas peseiras são hoje mais norma do que exceção – perde-se algum espetáculo de pó e pedra a voar, ganha-se em consistência de execução. No rally raid no entanto, ainda impera o pé de fora por hábito, mas os detalhes do corpo dos atletas já começam a apontar na mesma direção. Quando o detalhe se torna hábito sustentado pela eficácia, passa a ensinamento. Vale por isso a pena olhar para trás e ver como esta lógica se instalou ao longo das décadas no MX e SX, onde mais incentivo financeiro puxou a corda da evolução.
Nos anos 80 a norma era bruto e agressivo, faca nos dentes em bom português. Mas também foi aqui que surgiram as primeiras revoluções de forma. Pilotos como Bailey e O’Mara mostraram que estilo, postura em pé e forma de curvar podiam ser ensinados, não apenas copiados. Esta era marcou o tímido início das escolas e da ideia de que a técnica podia ser sistematizada.
Nos anos 90 e 2000 a mudança veio por outro meio. Ricky Carmichael não ficou conhecido pela técnica exímia, mas a agressividade e a cultura de treino físico extremo, desenvolvida com Aldon Baker, mudaram o desporto para sempre. Ele não reinventou postura, mas mudou o nível de exigência. James Stewart, por sua vez, trouxe um salto técnico novo com o scrub, uma manobra que deixou de ser truque isolado de um e passou a ser requisito de todos. Dois caminhos diferentes, ambos disruptivos e evolutivos a cimentarem uma nova era de ensino.
Na década de 2010, os centros de treino profissionalizados tomaram conta do desporto como o caminho de entrada para quem queria competir a sério. Deixou de se tratar apenas de ter talento ou um treinador pessoal: Roczen, Herlings e Prado chegaram de sistemas estruturados que trabalhavam técnica, físico e mental desde cedo. O que antes se aprendia a meio da carreira, agora vinha consolidado logo desde cedo.
E nos 2020, o fenómeno amadureceu e acelerou resultados. Exemplos como Jett Lawrence chegaram com técnica polida e maturidade pouco comum para a idade. Haiden Deegan, explosivo e cru, é o oposto estilístico, mas ambos refletem a mesma realidade: um sistema de ensino que entrega miúdos capazes de competir ao mais alto nível logo à chegada à competição de elite, mesmo que por razões diferentes. O nível médio disparou não porque todos tenham a mesma técnica, mas porque todos trazem já um pacote trabalhado de treino, experiência e intensidade, com bases técnicas sólidas à sua realidade. A estrutura de trabalho e técnica constrói a base, o instinto e o estilo pessoal dão-lhe a forma final.
No rally raid, a média de idades competitiva tende a ser mais alta do que em SX e MX e a profissionalização e difusão mediática ainda estão a amadurecer, não tendo atingido os níveis da AMA. A evolução formativa de bases tende a ser, por isso, mais lenta, mas não obrigatoriamente afastada do mesmo conceito. No passado, os grandes nomes do Dakar – de Peterhansel a Toby Price – vieram quase sempre de enduro e cross country, muitas vezes misturados com motocross, mas sem sistemas de ensino estruturados. Hoje, pilotos como Klein e Canet já aparecem como produtos de uma geração diferente: não porque são obrigatoriamente génios do desporto, mas porque cresceram num contexto onde o conhecimento do que é necessário nestes desportos é explícito, estudado, partilhado, ensinado e sistematizado desde cedo, seja por escolas de MX e SX, centros de treino especializados, ou instrutores privados. Isso dá-lhes uma consistência de detalhe que tendencialmente antes só se via atingir mais tarde nas carreiras.
Isto não faz deles campeões do mundo automáticos, longe disso, como já disse, a velocidade requer vários pontos. Mas mete-os a dar cartas desde muito cedo, com anos pela frente para evoluir e aperfeiçoar. E é essa transferência que observamos, motocross e supercross a puxar o nível para cima e o rally a absorver parte desse avanço com as adaptações necessárias à modalidade, o que mostra como o fora de estrada continua a mover-se em bloco.
Felizmente, tanto as motos como os pilotos evoluem, e isso significa que os 2030, 2040 e por aí fora vão certamente trazer novas revoluções a seu próprio mérito. Agora, só poderemos aproveitar esse futuro, como pilotos, atletas, e espetadores, se aceitarmos o nosso passado, e o nosso presente.
HAVE YOU SEEN THESE POSTS?
Tags
- All
- A arte do arranque
- A mentalidade do sucesso
- a mota segue os olhos
- ABS frente off-road
- acceptance
- ACELERA
- aceleração precoce
- adaptabilidade em motas
- adrenalina e condução
- adv
- ADV community
- ADV levantar sozinho
- adv motorcycle
- adv motorcycle blog
- ADV riding
- adv training portugal
- adve
- adventure
- adventure bike
- adventure bike blogs
- adventure bike ergonomics
- adventure bike for beginners
- adventure bike racing
- Adventure Bike Riding
- adventure bike training
- adventure bikes
- adventure bikes training
- adventure motorcycle
- adventure motorcycle blog
- adventure motorcycle for beginners
- adventure motorcycle myths
- Adventure Motorcycle Riding
- adventure motorcycle touring blog
- adventure motorcycle travel blog
- adventure riding
- adventure riding school
- adventure riding skills
- aerodinâmica moto
- aging and performance
- aging and sport performance
- aging athletes SEO / publication: older riders motorcycle training
- Ainda achas que formação é cara?
- Alberto exemplo prático
- alta redshift
- altura ao solo
- altura do banco
- análise
- análise visual
- analogia aviação
- ângulo de escorregamento
- ângulo escorregamento
- aprender a andar de mota
- aprender a andar de mota na terra
- aprender a andar de moto
- aprender adv
- aprender enduro
- aprender fora de estrada
- aprender mota
- aprender mota fora de estrada
- aprender moto
- aprender motocross
- aprender mx
- aprender offroad
- aprender supercross
- aprender sx
- aprendizagem
- aprendizagem autónoma com supervisão
- aprendizagem com intenção
- aprendizagem de motas
- aprendizagem em motas
- aprendizagem mota
- aprendizagem motas
- aprendizagem moto
- aprendizagem moto terra
- aprendizagem motora
- aquecimento adv
- aquecimento enduro
- aquecimento motocross
- aquecimento todo terreno
- are motorcycles safe?
- areia moto off-road
- Areia não é só cu para trás e acelerador!
- arm pump
- armadilhas comuns moto
- armp pump motocross
- arranque enduro
- arranque motocross
- arranque supercross
- artigo de opinião
- artigo de opinião motas
- artigo motas
- artigo motas elétricas
- artigos BN Endurocamp
- artigos opinião BN Adv
- artigos técnicos bn
- As espectativas das motas mágicas
- atenção visual
- aulas adventure
- aulas aventura
- aulas de mota
- aulas enduro
- aulas fora de estrada
- aulas mota portugal
- aulas moto
- aulas moto portugal
- aulas offroad portugal
- auto-análise do piloto
- auto-aprendizagem em motociclismo
- autocrítica
- autodidata vs formação
- aventura
- aventura 2 rodas
- aventura em duas rodas
- aventura mota
- aventura moto
- aventura off-road
- aventura segura
- aventureiros experientes
- aventureiros iniciantes
- aviação e motas
- baixa técnica
- balance and reactivity loss
- bancos confortáveis ou seguros
- barulho informação pneus
- base técnica
- bases off-road
- bases offroad
- bateria moto
- being safe on a motorcycle
- best adventure motorcycle
- best adventure motorcycle blogs
- best adventure motorcycle for beginners
- BEST Adventure Motorcycle Riding TIP
- best dual sport adventure motorcycle
- best motorcycle blog
- big bike
- Bike blog
- Bike for beginners
- Bike Riding tip
- Bike Riding Tips For Beginners
- bike touring blog
- biomecânica
- biomecânica moto
- biomecânica pilotagem
- bloqueio movimento
- BN
- bn adv
- BN Adv conforto
- bn adv portugal
- bn enduro camp
- bn enduro camp blog
- bn endurocamp
- BN Endurocamp conforto
- bn endurocamp portugal
- BN moto training
- bn-adv.com
- body preservation audience: mature adventure riders
- bone density
- botas de enduro rígidas
- braaaaaapp
- Braaaaaapp NATION
- cadeia erro livro
- cair de mota
- Cal Crutchlow
- capacitação do piloto
- carga mental na condução
- Casey Stoner
- Casey Stoner quote
- chuva offroad
- classes de terrenos
- classificação de terrenos
- classificação terrenos moto
- com motas pequenas ou grandes?
- Como aprender a andar de mota no sofá
- Como aprender no sofá
- como desligar ajudas
- como escolher modo off-road
- como escolher pneus de mota
- Como escolher uma escola de adventure
- Como escolher uma escola de enduro
- Como escolher uma escola de fora de estrada
- Como escolher uma escola de motocross
- Como escolher uma escola de mx
- Como escolher uma escola de off road
- Como escolher uma escola de sx
- como travar fora de estrada
- como travar motocross
- como travar mx
- Como travar para curvar
- como travar SX
- como ver na mota
- competição rally
- complacência
- complacency
- comportamento da mota
- comportamento dinâmico
- comportamento humano
- compras de extras para motas
- compromissos pneus
- concentração
- condução aventura
- condução de mota
- condução defensiva
- condução em sobrevivência
- condução em terra para iniciantes
- condução em terrenos soltos
- condução fora de estrada
- condução lenta
- condução lenta e controlada
- condução off-road
- condução técnica
- confiança
- confiança na condução
- conforto
- conforto em motas
- conforto em off-road
- conforto vs segurança
- consistência
- consistência na condução
- consistência técnica
- contacto e tração
- continuidade
- continuidade desporto
- continuidade movimento
- continuidade pilotagem
- controlo
- controlo da mota
- controlo de tração off-road
- controlo de tracção
- controlo e precisão
- controlo emocional
- controlo fino de embraiagem
- controlo mota chuva
- controlo moto
- controlo motor
- controlo motor fino
- controlo stress
- controlo tracção
- controlo tracção manual
- controlo vs velocidade
- coordenação motora
- corpo e mota
- corpo piloto
- Cossalter
- Cossalter Motorcycle Dynamics
- Cotovelos para cima de mota
- Cotovelos para cima.. porque?!
- Crew Resource Management
- CRF300L
- CRF300L off-road
- crítica à aprendizagem online
- crítica ao sistema de ensino
- crítica eletrónica motos
- crítica indústria motociclista
- crítica modos de potência
- CRM aviação
- cultura off-road
- curiosity technical angle: type II muscle fibre decline
- curso condução
- curso condução fora de estrada
- curso condução moto
- curso de suspensão
- curso mota
- curso mota portugal
- curso offroad portugal
- cursos de motociclismo
- cursos off-road
- curva apertada
- curvas apertadas
- custo formação ADV
- custo formação enduro
- custo formação todo terreno
- Dakar
- Dakar 2026
- Dakar bike
- Darwin Awards moto
- deadlift moto
- decisão
- decisão em trilho
- decisões rápidas
- deformação da carcaça
- dependência eletrónica
- desempenho em condução fora de estrada
- desenvolvimento pessoal no motociclismo
- desenvolvimento técnico motociclista
- desporto
- Devemos aprender em motas grandes ou pequenas
- dicas condução off-road
- dicas de condução
- dicas de motociclismo
- dicas para motards experientes
- dicas para motards iniciados
- diferença estrada pista
- dinâmica do pneu traseiro
- dirt
- distração vs foco
- divertimento moto terra
- domínio da mota
- domínio técnico
- dosagem de acelerador
- drift controlado
- drift em moto
- drift moto
- drills de controlo
- DT juventude
- dua
- dual sport
- dual sport adventure bikes
- dual sport adventure motorcycles
- Dual sport and adventure bikes
- dual sport bike for adventure riding
- dual sport or adventure bike
- dual sport or adventure motorcycle
- dual sport vs adventure bikes
- dual-sport
- dunning-kruger motociclismo
- Dunning-Kruger riding
- e técnicamente mau
- Edgar Canet
- eficiência off-road
- electrónica mascarar evolução
- eletric motion
- eletrónica motos terra
- EM CASO DE DÚVIDA
- embraiagem a meio curso
- embraiagem como torneira
- emotional health motorcycle
- empowerment
- endurance riding
- enduro
- enduro adventure
- enduro after 70
- enduro camp
- enduro instructor Portugal
- enduro lúdico
- enduro park
- enduro Portugal
- enduro recreativo
- enduro school
- enduro techniques emotion: motivation
- enduro técnico
- enduro training
- engenharia de pneus
- ensino de mota
- ensino híbrido em desporto técnico
- ensino off-road
- ensino técnico em motociclismo
- Entender pneus motas
- Entender tração e pneus
- Entender tração motas
- envelope pneus
- equilíbrio
- equilíbrio em baixa
- equilíbrio em motas
- equilíbrio piloto-máquina
- equipamento de mota aventura
- equipamento offroad
- ergonomia
- ergonomia e controlo corporal
- ergonomia em motas
- ergonomics
- erro cognitivo
- erro comum no off-road
- erro de confiança
- erro humano
- erro técnico Dakar
- erros
- erros comuns de condução
- erros comuns em motas
- erros comuns no conforto
- erros comuns no fora de estrada
- erros comuns no off-road
- erros de equipamento
- erros de leitura do piloto
- erros de principiante
- erros filmados Dakar
- És demasiado rápido… para ser rápido
- escola enduro Portugal
- escolha consciente offroad
- escolha de equipamento técnico
- escolha de formação moto
- escolha e controlo
- escolha pneus moto
- escolhas de modos moto
- escolhas informadas pneus
- escolhas pros Dakar
- escorregamento controlado
- espectador recalibração
- espetáculo pressão
- estabilidade
- estabilidade e controlo
- estado de flow
- estrada e terra
- Etiqueta e segurança nos trilhos
- Etiqueta e segurança nos trilhos para motas
- etiqueta fora de estrada
- Etiqueta para motas
- evitar maus hábitos
- evitar maus hábitos na terra
- evolução
- evolução do piloto
- evolução piloto
- evolução rápida moto
- evolução sustentada em motas
- evolução técnica em motas
- exame de mota
- exercícios de baixa velocidade
- exercícios de controlo
- exercícios de iniciação
- expectativas pneus
- Experience vs Expertise
- experiência
- experiência de condução
- Experiência vale o que vale
- experiência vs repetição
- extras de mota
- fadiga Dakar
- fadiga mental
- fadiga moto
- fase autónoma
- feedback mota
- filmagens prova
- filosofia de pilotagem
- Fitts e Posner
- flow
- flow em desporto
- fluidez movimento
- foco
- foco visual
- follow through enduro
- follow through moto
- follow-through
- follow-through desporto
- follow-through offroad
- fora de estrada
- fora estrada lúdico
- força
- formação
- formação adventure
- formação aventura
- formação BN Adv
- formação condução moto
- formação de condução
- formação de moto
- formação de motociclistas
- formação de pilotos
- formação em condução off-road
- formação em duas rodas
- Formação em motas grandes ou pequenas?
- formação enduro
- formação estruturada vs internet
- formação fora de estrada
- formação inicial mota
- formação mota
- formação mota terra
- formação moto
- formação motociclistas
- Formação off road
- formação off-road
- formação off-road Portugal
- formação offroad
- fracture recovery
- fundamentos de condução
- fundamentos do fora de estrada
- gaze control
- geometria
- geometria de motas
- gestão cognitiva
- gestão de compromisso
- gestão de desconforto
- gestão de risco
- gesto contínuo
- gold standard aprendizagem
- guia formação motociclistas
- Guy Martin
- Há coisas que não se ensinam
- habilidades técnicas essenciais
- hábitos de condução
- hábitos de consumo motociclístico
- Haiden Deegan
- hard enduro
- helicóptero Dakar
- hiperfoco
- how to start off-road at 60
- human factors
- humility
- idade média Dakar
- ilusão roupas moto
- impacto da eletrónica no treino
- iniciante offroad
- iniciantes em motas
- iniciantes off-road
- injured riders returning to dirt
- injury management
- inspiration
- instinto vs técnica
- instrução moto
- instrução técnica
- instructor moto
- instructors
- instrutor bn adv
- instrutor bn endurocamp
- instrutor mota
- instrutor moto
- instrutor moto portugal
- instrutor off-road
- Isso precisa é de mais velocidade!
- James Stewart
- janela de risco
- Jett Lawrence
- José Miguel Duarte
- kit de unhas
- kits de rebaixamento
- Kobe Bryant
- late starters
- leitura de terreno
- levantamento moto
- levantar mota
- ligação mente-músculo
- limites físicos moto
- livro fundamentos
- long rides motorcycle
- má interpretação de experiência
- manobras de perícia
- manobras técnicas
- manutenção moto
- Marc Márquez
- margem segurança
- marketing de motas
- Martim Ventura Dakar
- Mason Klein
- mecânica aplicada ao controlo
- melhor pneu touring
- melhoria contínua
- melhoria de pilotagem
- memória de procedimentos
- memória muscular
- mental health riding
- mental load
- mentalidade de piloto
- mente e corpo
- Mihaly Csikszentmihalyi
- mindset
- mitos
- mitos do fora de estrada
- mitos sobre conforto em motas
- modos off-road explicação
- modulação de travão
- mota aventura portugal
- mota mexe-se
- mota própria vs alugada
- mota terra
- motas
- motas a combustão
- motas altas
- motas aventura
- motas de aventura
- motas de estrada
- motas elétricas
- motas eletrónicas
- motas modernas
- motas pequenas ou grandes?
- motas Portugal
- motas todo terreno
- motas trail
- motivação no desporto
- moto ADV
- moto adventure chuva
- moto aventura
- moto aventura em Portugal
- moto aventura portugal
- moto Dakar aerodinâmica
- moto terra
- moto terra iniciante
- moto training portugal
- motoaventura
- motociclismo
- motociclismo avançado
- motociclismo consciente
- motociclismo de aventura
- motociclismo off-road
- motociclismo Portugal
- motociclismo técnico
- motocross
- motoestrada
- MotoGP
- MotoGP vs terra
- motorbike blog
- motorcorss
- motorcycle adventure blog
- motorcycle balance training
- motorcycle blog
- motorcycle blogs
- motorcycle confidence
- motorcycle riding blogs
- motorcycle riding tips and tricks
- motorcycle road trip blogs
- motorcycle safety
- motorcycle safety tips blog
- motorcycle suspension blog
- motorcycle suspension care blog
- motorcycle techniques blog
- motorcycle tips and tricks
- motorcycle tips and tricks for beginners
- motorcycle Tips&tricks
- motorcycle touring blog
- motorcycle trail braking
- motorcycle training
- motorcycle training portugal
- motorcycle travel blogs
- Motorcycles
- motos
- motos adventure
- motos adventure treino
- motos aventura
- motos de aventura
- motos e aprendizagem real
- motos modernas excesso eletrónica
- motos trail
- mototurismo
- movimento bloqueio
- movimento contínuo
- movimento resolvido
- Multidisciplinaridade
- multidisciplinaridade moto
- MX
- Neck brace
- nomenclatura sistemas motos
- nova geração motas
- o futuro elétrico
- o futuro?
- O melhor pneu para a minha mota é….
- o que é arm pump
- O que é talento em duas rodas?
- O que esperar de um treino de adventure
- O que esperar de um treino de enduro
- O que esperar de um treino fora de estrada
- O que esperar de um treino motocross
- O que esperar de um treino off-road
- off road
- off road motorcycle riding techniques
- off road motorcycle tips
- off road motorcycle tips blog
- off road racing
- off-road
- off-road bike on road
- off-road enthusiasts
- off-road fitness
- off-road for seniors
- off-road lúdico
- off-road motorcycle
- off-road motorcycle techniques
- off-road motorcycle techniques blog
- off-road para adultos
- off-road para iniciantes
- off-road Portugal
- off-road school
- off-road training
- offroad
- offroad consciente
- offroad portugal
- offroad técnico
- offroad training portugal
- older riders
- olhar na condução
- Os diferentes tipos de fora de estrada
- os limites de levantar motas
- palavra difícil ou necessidade?
- Pára de andar em pé fora de estrada
- Pára de fazer isto com os pés!
- para onde olhar na mota
- para-quedas piloto
- passeios de moto
- pedagogia motociclismo
- pedagogia no motociclismo
- percepção e reacção
- perda de momento
- performance
- performance em motas
- perseverance
- pés nas peseiras
- peso para trás e acelerador
- peso piloto
- Peter Attia fracture mortality
- physical adaptation
- physiotherapists
- pilotagem
- pilotagem adventure
- pilotagem consciente
- pilotagem de precisão
- pilotagem em p
- pilotagem em piso molhado
- pilotagem em terra
- pilotagem offroad
- pilotagem purista
- pilotagem segura
- pilotagem técnica
- pilotagem terra
- piloto erro
- piloto proactivo
- piloto reactivo
- pilotos Dakar
- piso de transição
- pneu de mota adventure
- pneus
- pneus 50-50
- pneus adventure
- pneus agressivos
- pneus cardados
- pneus de estrada offroad
- pneus em motas
- pneus enduro
- pneus gastos vs novos
- pneus iniciantes off-road
- pneus motas
- pneus moto
- pneus off-road
- pneus slick MotoGP
- pneus terra
- poças profundas
- Porque é que a mota vai para onde estás a olhar
- Porque é que a mota vai para onde olhamos
- Portugal off-road
- Portugal offroad
- posição corpo moto
- posição corporal
- POSIÇÃO DE ATAQUE
- posição de ataque em pé
- posição de condução na terra
- posição dos pés
- posições de condução
- posições semelhantes
- poupar energia Dakar
- pré-flow
- preço formação adv
- preço formação enduro
- preço formação todo terreno
- preço treino adv
- preço treino enduro
- preço treinos fora de estrada
- preparação da mota
- preparação de motas
- preparação física
- preparação física enduro
- preparação física moto
- preparação mental
- preparação para treinos de off-road
- pressão competição
- pressão dos pneus
- pressão pneus moto
- progressão
- progressão do motociclista
- progressão no off-road
- progressão off-road
- progressão offroad
- progressão piloto terra
- progressão técnica
- pros Dakar
- proteção fisica ou psicológica?
- protecção física ou psicológica?
- proteções moto
- prova dura mundo
- psicologia da performance
- psicologia do desporto
- psicologia do piloto
- punhos de espuma
- qual o melhor pneu
- qual o melhor pneu de mota
- quebra continuidade
- queda mota
- quedas
- quedas inevitáveis
- Queres um kit de unhas?
- quilómetros não são tudo
- rake
- rally raid
- rally training
- rally-raid
- Rally2
- Rally2 rookie
- Rápido
- reacção mota
- realism
- rebaixar motas
- reflexão
- reflexos
- refrescamentos treino
- resilience
- resistência
- resolução gesto
- resoluções ano novo
- respect
- respiração
- responsabilidade individual na aprendizagem
- Ricky Carmichael
- rider rating system
- riding
- riding after 60
- riding fundamentals
- riding skills
- riding technique
- rigidez lateral
- risco complacência
- risco escondido
- risk management off-road
- rituais
- rodinhas motos analogia
- rookies Dakar
- rookies moto
- roupa adventure touring
- running Dakar
- Sabes mesmo como o teu corpo se mexe na mota?
- sacrifício performance
- sag
- saúde
- saves mota
- SEGREDOS DA POSIÇÃO DE ATAQUE
- Segredos da posição de ataque em pé
- segurança
- segurança ativa
- segurança ativa na mota
- segurança em condução fora de estrada
- segurança em duas rodas
- segurança em estrada
- segurança em motas
- segurança estrada terra
- segurança fora de estrada
- segurança fora estrada
- segurança mota
- segurança moto
- segurança off-road
- segurança para motas
- segurança vs marketing motos
- self-awareness
- sensibilidade à mota
- sensibilidade na condução
- sensibilidade nos comandos
- separação corporal
- separacao e iniciacao
- Será o futuro das motas elétrico?
- setup da mota
- setup de suspensão
- slicks
- slip angle moto
- small-displacement motorcycles
- sport longevity
- stak varg
- super cross
- superação
- supercross
- superstições
- suspensão de motas
- suspensão moto
- SX
- tacita
- talento duas rodas
- talento motas
- talento motocross
- talento natural
- talento supercross
- técnica
- técnica adv
- técnica base vs elite
- técnica condicional
- técnica condução
- tecnica cotovelos mota
- técnica de 8s
- técnica de condução
- técnica de condução off-road
- tecnica de motocross
- técnica de pilotagem
- tecnica enduro
- tecnica fora de estrada
- técnica funcional
- técnica levantar moto
- técnica marc márquez
- técnica mota
- técnica mota terra
- tecnica motas
- técnica moto
- técnica moto terra
- técnica motocross
- tecnica motos
- técnica mx
- técnica off-road
- técnica pilotagem
- técnica sx
- tecnica todo terreno
- técnicas condução fora de estrada
- técnicas de baixa velocidade
- técnicas de base
- técnicas de condução moto
- técnicas de condução off-road
- técnicas de condução terra
- técnicas de equilíbrio moto
- técnicas de mota terra
- técnicas de pilotagem
- técnicas offroad
- temperatura do pneu
- tempo molhado
- Tens a mota certa para o teu tamanho?
- tentativa e erro moto
- terreno estável
- terreno seco vs molhado
- tips and tricks
- tips and tricks for riding a motorcycle
- Tips&tricks
- Tony Foale Feel
- topic: off-road
- trabalho árduo
- tração
- tração em motas
- tração instável
- tração motas
- tração terra
- trail
- trail braking motorcycle
- trail braking motorcycle riding
- trail braking motorcycle technique
- trail mota portugal
- trail moto portugal
- training adaptation
- transição estrada-terra
- travagem dianteira
- Travagem para curvas!
- travão a chiar
- travão da frente
- travão traseiro
- travessias de água
- travessias mal avaliadas
- treino
- treino alentejo mota
- treino alentejo moto
- treino avançado
- treino avançado mota
- treino avançado moto
- treino aventura
- treino BN
- treino bn adv
- treino bn endurocamp
- treino BN Portugal.
- treino bn-adv
- treino casais mota
- treino cascais mota
- treino cascais moto
- treino cognitivo
- treino com vídeo
- treino consciente
- treino contínuo moto
- treino de aventura
- treino de condução
- treino de curva
- treino de mota
- treino de motas
- treino de motociclistas
- treino de sensibilidade
- treino direcional
- treino em terra
- treino físico
- treino fora da mota
- treino iniciantes mota
- treino iniciantes moto
- treino mental
- treino mota terra
- treino motas
- treino motas altas
- treino moto
- treino off-road
- treino off-road Portugal
- treino offroad
- treino para avançados
- treino para estradistas
- treino para iniciados
- treino para iniciantes
- treino para pilotos experientes
- treino personalizado
- treino piloto
- treino privado mota
- treino privado moto
- treino profissional
- treino repetitivo
- treino santarém mota
- treino santarém moto
- treino técnico
- treino técnico moto
- treino travagens
- treino vs competição
- treino vs rolar
- treinos adv
- treinos adventure
- treinos enduro
- treinos motocross
- treinos todo terreno
- triagem em mota
- triagem offroad
- triagem pilotagem
- upgrades
- uso misto
- velocidade
- velocidade pura